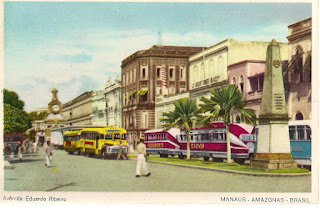Por Jefferson Peres
Como não poderia deixar de ser, a imprensa de Manaus era um
reflexo do meio provinciano em que se inseria. Ao terminar a Segunda Guerra
Mundial, tínhamos apenas quatro jornais permanentes e de circulação diária, ao
lado de outros, de vida efêmera ou longa, porém editados esporadicamente, de
forma irregular. Ao tempo, alguns circulavam pela manhã, e outros à tarde. Eram
matutinos O Jornal e o Jornal do Comércio, e vespertinos, obviamente, A Tarde e
o Diário da Tarde.
Mesmo esses quatro maiores não funcionavam, a rigor, em
bases empresariais. O parque gráfico era obsoleto mesmo para a época – com
exceção, talvez do que imprimia os jornais da família Archer Pinto –, o pessoal
era mal remunerado, muitos sequer possuíam vínculo empregatício e as
dificuldades financeiras chegavam a ser angustiantes.
O noticiário telegráfico era escasso, predominando as
notícias locais, de conteúdo e linguagem que beiravam a ingenuidade.
Diariamente eram publicadas relações de aniversariantes, com notas mais
extensas sobre alguns, como matéria paga ou por injunções de amizade.
Publicavam-se, também, listas completas de passageiros de
aviões e, assim, ficava-se sabendo, obrigatoriamente, quem estava indo para
onde. A seção policial se limitava a uma coluna. A de O Jornal intitulava-se
Polícia e Ruas, com três ou quatro tópicos que registravam, principalmente,
brigas de vizinhos e prisões por bebedeiras.
Em geral, as notícias eram vazadas em linguagem pitoresca,
que deliciava, tanto pela repetição de clichês e frases feitas, como pelo
emprego de saborosíssimos sinônimos em substituição a palavras de uso
coloquial. Assim, água era precioso líquido; todo juiz, ínclito magistrado;
toda moça, fino ornamento da nossa sociedade; e toda senhora casada, de classe
média, virtuosa esposa do doutor Fulano de Tal, ou então, dama de peregrinas
virtudes.
Médico era chamado de esculápio; advogado, de causídico;
prostituta, de mariposa ou hetaira; escritor, de beletrista; poeta, de vate ou
bardo; bispo, de antístite; ladrão, de lunfa ou larápio. E todo portador de
diploma de curso superior era inevitavelmente chamado de doutor. Aliás, se não
o fosse, provavelmente se sentiria ofendido e procuraria o dono do jornal, para
reclamar do tratamento não condizente com o seu título. Esse tipo de protesto constituía
sintomática demonstração de que a imprensa refletia efetivamente a mentalidade
da época.
Seria um engano, porém, supor que os jornais fossem
inteiramente escritos nessa linguagem bisonha. O nível era outro, quando se
tratava de editoriais ou artigos de fundo, como eram chamados, de sueltos e de
matéria assinada. Nesses casos a qualidade podia ir de boa a excelente, porque
todos esses órgãos, mesmo os menores, contavam com redatores e colaboradores de
primeira água.
Na velha-guarda se incluíam homens como Álvaro Maia, Adriano
Jorge, Leopoldo Péres e Huascar de Figueiredo. E, ainda, Joao Leda, de
impressionante erudição filológica e polemista temível, porque escrevia certo e
bem. O que não é, necessariamente, a mesma coisa. Pode-se escrever com acerto e
sem nenhum talento.
Outro que se agigantava era Herculano de Castro e Costa,
reconhecido por todos os seus ex-companheiros como um dos mais completos homens
de jornal que o Amazonas já teve. Meus contatos com ele foram poucos, mas sabia
identificar de imediato os editoriais de sua lavra, pela limpidez de estilo e
contundência de linguagem.
Não poderia esquecer Genesino Braga, que já surgia como o
grande cronista da cidade que fez sua por adoção. Entre os mais novos, já se
distinguia Agnello Uchôa Bittencourt, de quem tive a ventura de ser aluno,
muitos anos mais tarde, em meu curso de mestrado na Fundação Getúlio Vargas.
Amazonense de boa cepa, pertencente a uma estirpe de intelectuais, filho que
era do velho Agnello e irmão de Ulysses, foi mais um dos conterrâneos que cedo
emigraram, abrindo claros preenchidos por arrivistas de varias procedência.
Surgia, também, ainda muito mais novo, o padre Raimundo Nonato Pinheiro, que já
despontava como um legítimo sucessor de João Leda, no posto de defensor da pureza
do nosso conspurcado idioma.
Um lugar especial era ocupado por Pedro Ubiratan de Lemos,
muito jovem, com pouco mais de vinte anos, boêmio e meio irresponsável, foi,
possivelmente, a maior vocação de jornalista de sua época. Tinha o faro, a
garra e a imaginação dos grandes repórteres. Perseguia a notícia tenazmente e,
quando não a encontrava – pecado perdoável pela idade – simplesmente a
inventava. Foi ele que reeditou, falsamente, o milagre de Fátima em Manaus, ao
engendrar uma aparição de Nossa Senhora no Alto de Nazaré, transformando o
covão da Rua Barcelos numa réplica da cova da Iria.
Usando expedientes os mais diversos, ele conseguiu convencer
uma parte da população de que a Virgem tinha aparecido a algumas pessoas
naquele local, logo convertido num ponto de romaria, onde se reunia diariamente
uma multidão de devotos. A farsa movimentou a cidade e rendeu a Pedro copiosa
matéria para algumas semanas de reportagens.
Lembro-me de outra vez em que, num dia paupérrimo de
notícias, ele escreveu extenso e comovente relato sobre a morte de uma família
de caboclos, num naufrágio no Solimões, do qual restara apenas um sobrevivente
para contar a tragédia. É claro que essas brincadeiras eram exceções na vida
profissional de Pedro, que sabia escrever como ninguém sobre fatos reais. Não
foi à toa, mas graças ao seu talento, que logo depois trocava Manaus pelo Rio
de Janeiro, onde trabalhou em O Cruzeiro, na sua fase de ouro, e nos maiores
jornais da então capital da República, vindo a consagrar-se como um dos melhores
repórteres do país.

Outros integrantes da turma jovem do periodismo foram
Arlindo Porto, Mendonça de Souza, Áureo Mello, Almino Affonso, Leopoldo Péres
Sobrinho, José Cidade, Aluísio Sampaio, Phelippe Daou e Milton Cordeiro, alguns
dos quais continuaram por muitos anos no batente. Cito esses nomes ao correr da
pena, sob o risco de cometer omissões por falha de memória, sem nada de
intencional. Falha tanto mais desculpável quanto jamais tive militância efetiva
na imprensa, com a qual sempre colaborei através de artigos assinados. Apenas
em anos mais recentes cheguei a escrever os editoriais de A Crítica, mas em
caráter não profissional.
A imprensa de Manaus viveu durante muito tempo, sob a
predominância dos dois órgãos editados pela Empresa Archer Pinto, o Jornal e o
Diário da Tarde. Eram os mais bem equipados, os que contavam com os melhores
colaboradores, os de melhor feição gráfica e, disparadamente, os de maior
circulação. Seus dirigentes eram cortejados até pelos mais poderosos,
conscientes da força dos dois periódicos junto à opinião pública. Um apelo ou
advertência de qualquer deles, dirigido ao governo, era seguido de imediatas
providências; uma crítica, endereçada a qualquer cidadão, deixava o atingido em
pânico. E se as críticas se transformavam em campanha sistemática, como
aconteceu com Leopoldo Cunha Melo, então, o jornal precisava ser neutralizado,
através de gestões de paz, se a vítima tinha alguma pretensão de fazer
carreira.
Curiosamente, o todo-poderoso proprietário desses órgãos de
comunicação não parecia tirar proveito disso. Anti-social, o velho Henrique
Archer Pinto, fundador e diretor-presidente da empresa, viveu os últimos anos
de sua vida recluso em casa. Não comparecia a reuniões, não fazia nem recebia
visitas, a não ser dentro de um círculo muito restrito de parentes e amigos. Já
adolescente, fui seu vizinho, por mais de um ano, na Praça General Osório, lado
da rua Luiz Antony, separadas nossas casas por uma distância inferior a cem
metros. Nunca consegui vê-lo, nem por instantes. Falava-se numa doença grave,
de que seria portador, mas parece que o boato não tinha fundamento.
Tudo indica que o velho Henrique, por algum motivo, se
desencantara com o gênero humano. Por isso, logo passou a direção da empresa
aos filhos Aguinaldo e Aluísio, sob a liderança do primeiro. Mas Aguinaldo
teria vida curta, morrendo antes de completar quarenta anos. O comando dos
jornais se transferiu, então, para a sua viúva, minha amiga Maria de Lourdes,
que bravamente os dirigiu, durante mais de dez anos. Mas os tempos eram outros
e o encargo pesado demais para os seus ombros. No começo dos anos setenta,
deixava de circular o Diário da Tarde e, alguns anos depois, com reduzida
circulação e nenhuma influência, desaparecia melancolicamente O Jornal. Logo a seguir,
a empresa entrava em liquidação.

Vizinho à empresa Archer Pinto, em prédio contíguo,
funcionava o velho Jornal do Comércio, o outro grande matutino da cidade. Até
os inícios dos anos quarenta foi propriedade do velho Vicente Reis, pai de
Arthur Cezar Ferreira Reis, que o dirigiu com mão de ferro, imprimindo-lhe um
caráter austero e conservador. Dizem que o velho Reis era muito severo e
exigente no tocante à veracidade do noticiário e instituíra como norma do
jornal não desmentir notícia publicada.
Era anedota corrente na cidade, que certa vez, o Jornal do
Comércio noticiou, por engano, a morte de um determinado cidadão. Este,
indignado, pediu desmentido, que não veio. E, pior, nunca mais viu publicada
nenhuma notícia a seu respeito, porque, para o jornal, ele estava
definitivamente morto. Corria, também, com foros de verdade, que o velho
Vicente não perdoava desafetos. A tal ponto, que seus nomes não podiam ser
publicados no jornal, mesmo em listas de passageiros.
Verdadeiros ou não, esses fatos não foram meus
contemporâneos, pois quando despertei para o mundo o Jornal do Comércio, já
tinha sido adquirido por Assis Chateaubriand e incorporado ao império dos
Diários e Rádios Associados, que se estendia por todo o país. Já era dirigido
de forma mais impessoal, com diretores vindos de fora, que aqui permaneciam
poucos anos, sem tempo de se integrarem ao meio. Não era jornal de minha
simpatia porque, fiel à orientação do seu dono, seguia uma linha conservadora e
antinacionalista.
Durante a campanha do Petróleo é Nosso, a posição do JC era
abertamente contrária ao movimento. Em seu rodapé, quase todos os dias,
tínhamos o desprazer de encontrar, em seu estilo inimitável, um artigo de Chatô
com violentos ataques à tese do monopólio estatal. Sempre lamentei que uma pena
tão brilhante estivesse a serviço de uma causa que, no meu entender, não
consultava os interesses nacionais. Nem mesmo depois de criada a Petrobras a
posição do jornal de modificou, só vindo a se atenuar após a morte de
Chautebriand, Por essas e por outras razões, que não pretendo, aqui analisar, o
velho matutino foi perdendo leitores gradativamente. Conseguiu sobreviver, mas
sem importância do tempo em que disputava com O Jornal a preferência da chamada
Classe A.

O quarto diário da cidade era A Tarde, que se identificava
com Aristhópano Antony, seu proprietário e fundador. Era o mais novo e mais
modesto de todos. Funcionava no térreo do prédio ainda hoje existente, na
esquina da Rua Henrique Martins com Lobo d’Almada. As instalações eram acanhadas,
com as oficinas no piso inferior e a redação numa pequena sobreloja de madeira.
A impressão se fazia numa velha rotoplana, em tipos graúdos, e precisava ser
manuseado com muito cuidado porque a tinta se desprendia com facilidade,
manchando roupas e mãos dos leitores. Invariavelmente com quatro páginas, era
pobre também de noticiário, tanto local como telegráfico.
Apesar dessas deficiências, o jornal era influente e tinha
um público fiel, graças principalmente, senão exclusivamente, a Aristophano. Ele
era, creio, o único dono de jornal com militância no batente. Não exercia outra
atividade remunerada. Vivia do jornal, que dirigia pessoalmente e no qual
escrevia todos os dias. Infalivelmente, lá estava o seu artigo assinado, no
canto inferior da primeira página, dividido em três partes, sempre do mesmo
tamanho.
Jornalista combativo, que não poupava adversários de ataques
frontais e contundentes, seus artigos eram o grande atrativo do jornal. Homem
de hábitos conservadores, trajando rigorosamente paletó e gravata, chapéu na
cabeça, charuto na mão, fazia diariamente, de manhã e de tarde, o percurso de
casa para a redação e vice-versa. Sempre pela Henrique Martins e às mesmas
horas.
Talvez pelo seu conservadorismo, não pôde, ou não quis,
modernizar o jornal, que teve o desgosto de fechar poucos anos antes de morrer.